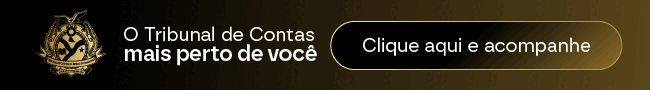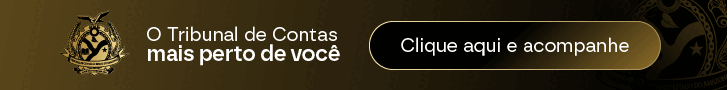ouça este conteúdo
00:00 / 00:00
1x
Em de 16 abril de 2025, a prestigiada revista britânica The Economist publicou um artigo sobre o Supremo Tribunal Federal (STF), em particular, sobre o ministro Alexandre de Moraes. As críticas, que rapidamente repercutiram no cenário político nacional e internacional, reacenderam o debate sobre quais são os limites do Poder Judiciário e como equilibrar a necessária independência dos tribunais com a igualmente necessária contenção de seu poder?
O presente artigo analisará essas críticas à luz da teoria constitucional e da ciência política, contextualizando-as no debate mais amplo sobre ativismo judicial e separação de poderes. Longe de oferecer respostas definitivas, pretendo contribuir para uma reflexão informada sobre os desafios institucionais que o Brasil enfrenta atualmente.
O Ativismo Judicial e os seus significados
Para compreender adequadamente as críticas direcionadas ao STF, é necessário primeiro entender o conceito de ativismo judicial, expressão que ganhou notoriedade no debate público, mas que carrega significados diversos e por vezes contraditórios.
O termo “ativismo judicial” surgiu nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial e, desde então, tem sido utilizado tanto como crítica quanto como elogio à atuação do Poder Judiciário. No Brasil, o debate sobre o tema intensificou-se após a Constituição de 1988, que ampliou os poderes do Judiciário, especialmente do STF.
O ativismo judicial pode ser entendido de diferentes formas: como modelo para a decisão judicial, como atitude dos juízes ou como tendência das decisões judiciais em conjunto. Essa multiplicidade de sentidos dificulta o debate, pois frequentemente os interlocutores utilizam o mesmo termo com significados distintos.
De maneira geral, podemos entender o ativismo judicial como a extrapolação da esfera de atuação do Poder Judiciário, gerando uma relação tensional entre os poderes da República. Quando juízes e tribunais ultrapassam os limites tradicionais de sua função e interferem em questões tipicamente políticas, estamos diante do fenômeno do ativismo judicial.
É importante distinguir, contudo, entre judicialização da política e ativismo judicial. A judicialização é um fenômeno identificado na maioria das democracias constitucionais contemporâneas, onde questões políticas e sociais são transformadas em questões jurídicas e levadas aos tribunais. Já o ativismo judicial refere-se à postura proativa do Judiciário, que, ao extrapolar suas atribuições originárias, interfere em questões tradicionalmente reservadas aos outros poderes.
Os limites constitucionais e legais ao Poder Judiciário
Em uma democracia constitucional, todos os poderes estão sujeitos a limites. No caso do Poder Judiciário brasileiro, esses limites são estabelecidos pela Constituição Federal e por leis como a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
O princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal, estabelece que “são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Essa independência, contudo, não significa ausência de controles mútuos. Pelo contrário, o sistema de freios e contrapesos pressupõe que cada poder tenha mecanismos para limitar eventuais excessos dos demais.
No caso específico do Poder Judiciário, a Constituição estabelece uma série de limites à sua atuação, como a necessidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX) e a garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV). Além disso, a própria estrutura do Judiciário, com diferentes instâncias e a possibilidade de recursos, funciona como um mecanismo de controle interno.
A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por sua vez, estabelece em seu artigo 20 que “nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”. Esse dispositivo, incluído pela Lei 13.655/2018, busca justamente limitar decisões judiciais baseadas somente em princípios abstratos, sem consideração de suas consequências concretas.
Apesar desses limites formais, o debate sobre o ativismo judicial persiste.
Constrangimentos à atuação judicial: além dos limites formais
Em um artigo publicado na Revista de Investigações Constitucionais, discute-se que os constrangimentos meramente hermenêuticos (ou constrangimentos a priori) não são suficientemente eficazes para limitar o ativismo judicial. Esses constrangimentos, baseados em teorias da interpretação jurídica, mostram-se frágeis diante da complexidade dos casos concretos e da diversidade de métodos interpretativos disponíveis.
Por isso, ganham importância os chamados constrangimentos a posteriori, que são limites práticos à atuação judicial. Entre esses constrangimentos, destacam-se o respeito aos precedentes e a interpretação evolutiva (incrementalismo).
O respeito aos precedentes significa que os tribunais devem seguir suas próprias decisões anteriores em casos semelhantes, garantindo previsibilidade e segurança jurídica. Já a interpretação evolutiva ou incrementalismo sugere que as mudanças na jurisprudência devem ocorrer de forma gradual, evitando rupturas bruscas com o entendimento consolidado.
Esses constrangimentos práticos são especialmente relevantes para o STF, que, como tribunal de última instância, não está sujeito a revisões por instâncias superiores. Sem esses limites autoimpostos, o risco de decisões arbitrárias ou excessivamente discricionárias aumenta.
As críticas da The Economist: contexto e conteúdo
É nesse contexto teórico que devemos analisar as críticas feitas pela revista The Economist ao STF e, em particular, ao ministro Alexandre de Moraes. Em seu artigo, a revista britânica afirmou que “a democracia brasileira tem outro problema: juízes com poder excessivo. E nenhuma figura personifica isso melhor do que Alexandre de Moraes”.
A revista destacou que Moraes está exercendo “poderes surpreendentemente amplos, que têm como alvo predominantemente atores de direita” e defendeu que “juízes individuais devem evitar emitir decisões monocráticas, especialmente em questões políticas sensíveis”.
Entre os casos citados pela The Economist estão o bloqueio da plataforma X (antigo Twitter) no Brasil, a remoção de centenas de contas pró-Bolsonaro da plataforma e a suspensão do processo de extradição de um cidadão búlgaro. Essas decisões foram tomadas monocraticamente por Moraes, sem a participação dos demais ministros da corte.
A revista também criticou a resposta de Moraes quando questionado sobre a necessidade de um código de ética para o STF, semelhante ao adotado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 2023. Segundo a publicação, o ministro afirmou que “não há a menor necessidade” de tal código.
Para a The Economist, o STF deve exercer “moderação” se não quiser enfrentar uma crise de confiança dos brasileiros. A revista sugeriu que, para “restaurar sua imagem de imparcialidade”, a corte deveria realizar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado pela AGU de liderar uma suposta trama golpista, no Plenário, e não na Primeira Turma, composta por apenas cinco ministros, entre os quais um ex-advogado pessoal de Lula (Cristiano Zanin) e um ex-ministro da Justiça do atual governo (Flávio Dino).
Análise das críticas à luz da teoria sobre limites do Poder Judiciário
As críticas da The Economist tocam em pontos sensíveis do debate sobre os limites do poder judiciário no Brasil. O primeiro deles é a questão das decisões monocráticas, que têm se tornado comuns no STF, especialmente em casos de grande repercussão política.
Segundo a Constituição Federal, o STF é um órgão colegiado, cujas decisões deveriam, em princípio, ser tomadas coletivamente. No entanto, o regimento interno da corte permite que, em casos de urgência, os ministros decidam individualmente, submetendo posteriormente a decisão ao referendo do colegiado.
O problema é que, na prática, muitas dessas decisões monocráticas acabam não sendo levadas ao plenário ou permanecem em vigor por longos períodos antes de serem analisadas coletivamente. Isso concentra um poder imenso nas mãos de ministros individuais, especialmente daqueles que são relatores de casos politicamente sensíveis.
Outro ponto levantado pela revista é a aparente parcialidade de algumas decisões, que teriam como alvo predominantemente atores de um determinado espectro político. Essa percepção de parcialidade, independentemente de sua veracidade, é prejudicial à legitimidade do tribunal, que deve ser visto como um árbitro imparcial dos conflitos políticos e sociais.
A questão da transparência e da ética também é relevante. Enquanto outros tribunais supremos ao redor do mundo têm adotado códigos de ética e mecanismos de transparência mais robustos, o STF brasileiro tem aparentemente resistido a algumas dessas mudanças. A ausência de um código de ética formal, por exemplo, deixa a cargo de cada ministro decidir sobre questões como impedimento e suspeição em casos específicos.
Por fim, a revista toca na questão da composição das turmas julgadoras e na importância de que casos politicamente sensíveis sejam julgados pelo plenário, com a participação de todos os ministros. Essa preocupação reflete o princípio de que, quanto maior a repercussão política de um caso, maior deve ser a representatividade do órgão que o julga.
Perspectivas comparativas: o Judiciário em outras democracias
Para contextualizar as críticas ao STF brasileiro, é útil olhar para como outras democracias lidam com a questão dos limites ao poder judiciário. Nos Estados Unidos, por exemplo, como já dito, a Suprema Corte adotou em 2023 um código de ética formal, após uma série de controvérsias envolvendo alguns de seus juízes.
Além disso, a Suprema Corte americana raramente emite decisões individuais em casos de grande repercussão política. A regra é que as decisões sejam tomadas coletivamente, após amplo debate entre os juízes. Mesmo em casos de emergência, quando decisões rápidas são necessárias, geralmente há um esforço para obter o consenso do tribunal.
Na Alemanha, o Tribunal Constitucional Federal também opera de forma predominantemente colegiada. As decisões são tomadas por duas câmaras “Senados” compostas por oito juízes cada e há regras formais sobre quais tipos de casos devem ser julgados por cada câmara ou pelo plenário.
Essas experiências internacionais sugerem que é possível conciliar a independência judicial com mecanismos de controle interno que evitem a concentração excessiva de poder em juízes individuais.
Propostas de reforma do sistema Judicial brasileiro
Diante das críticas, várias propostas de reforma do sistema judicial brasileiro têm sido discutidas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal atualmente.
Entre elas, destacam-se:
- Limitação de decisões monocráticas: Estabelecer regras mais rígidas sobre quando um ministro pode decidir individualmente e garantir que essas decisões sejam rapidamente submetidas ao referendo do colegiado.
- Mandatos fixos para ministros do STF: Em vez da atual regra de aposentadoria compulsória aos 75 anos, estabelecer mandatos fixos e não renováveis, como ocorre em outros tribunais constitucionais ao redor do mundo.
- Revisão das regras de composição das turmas julgadoras: Estabelecer critérios mais claros sobre quais casos devem ser julgados pelas turmas e quais devem ir diretamente ao plenário.
- Maior transparência nas decisões e procedimentos: Ampliar os mecanismos de transparência do tribunal, permitindo um maior escrutínio público de suas atividades.
Conclusão: em busca do equilíbrio
As críticas da The Economist ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes, embora toquem em questões relevantes, precisam ser recebidas com a devida cautela. É inegável que o equilíbrio entre os poderes, a transparência institucional e a limitação da atuação judicial são temas centrais para qualquer democracia. Mas o Brasil enfrenta desafios próprios: tentativas recentes de ruptura da ordem democrática, desinformação em massa e ataques sistemáticos ao Estado de Direito moldaram um ambiente onde a defesa das instituições por vezes exigiu respostas excepcionais.
Por isso, ainda que experiências de outros países possam inspirar reflexões, é fundamental que as soluções para os nossos dilemas institucionais sejam pensadas a partir da nossa realidade histórica, política e social. Importar modelos prontos, sem considerar nossas especificidades, seria um erro tão grave quanto ignorar a necessidade de aprimorar o Judiciário.
É preciso reconhecer: nenhuma revista estrangeira — por mais prestigiada que seja — trará respostas mágicas para os dilemas brasileiros. Cabe à nossa sociedade, a partir de suas diversidades e potencialidades, construir caminhos de aprimoramento institucional. O olhar externo pode provocar reflexões úteis, mas o protagonismo na construção do nosso Estado Democrático de Direito precisa ser brasileiro. E isso implica fortalecer a autocrítica interna, valorizar o debate público qualificado e reafirmar o compromisso com uma democracia que seja nossa — não somente por herança, mas por escolha consciente e permanente.
Fonte: ICL Notícias